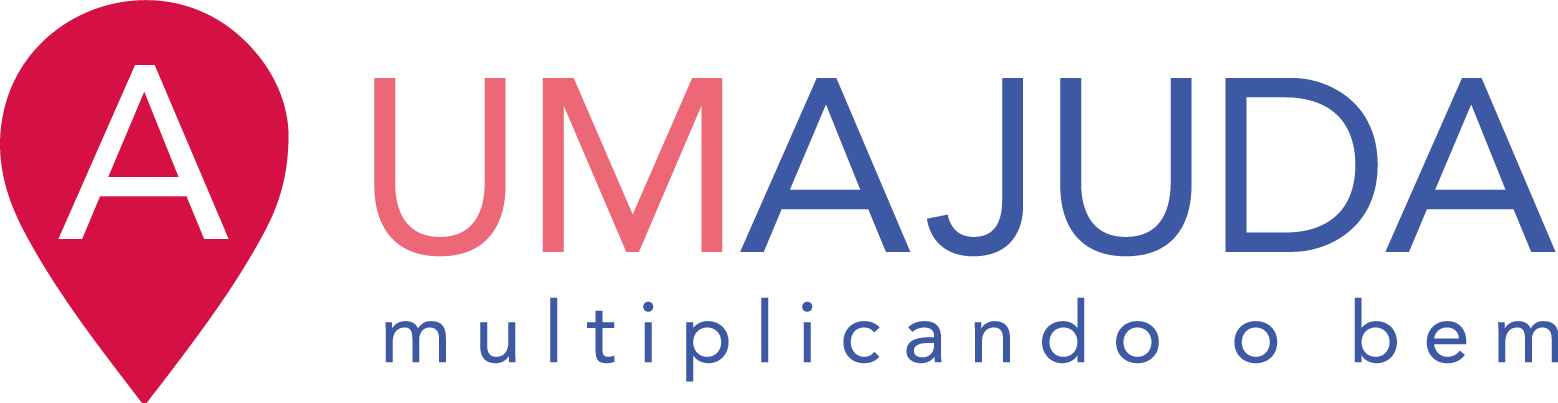Embora a biologia evolutiva explique o altruísmo como uma estratégia adaptativa, a psicologia comportamental oferece outra lente: o altruísmo como um comportamento aprendido e mantido por reforços — ou mesmo internalizado como valor moral.
Segundo a teoria do condicionamento operante, proposta por B.F. Skinner, comportamentos são moldados por suas consequências. Quando um ato altruísta é seguido por reforço positivo (como aprovação social, afeto ou sensação de bem-estar), ele tende a se repetir1. Mesmo que o reforço não seja material, o simples reconhecimento ou a auto recompensa emocional já são suficientes para consolidar o comportamento.
Com o tempo, esse padrão pode ser generalizado e internalizado, especialmente quando inserido em contextos educativos e culturais que valorizam a empatia, a solidariedade e a justiça. Nesse processo, o altruísmo deixa de ser uma resposta condicionada e passa a integrar o repertório moral do indivíduo — ou seja, ele faz o bem porque acredita que é o certo, não porque espera algo em troca.
Essa transição entre comportamento condicionado e valor moral é descrita por autores da análise do comportamento como uma forma de autocontrole moral, onde regras e autorregras internalizadas orientam ações altruístas mesmo na ausência de reforço externo2.
A partir da perspectiva do condicionamento operante, o comportamento altruísta pode ser compreendido como resultado de processos de reforço que, ao longo do tempo, favorecem sua manutenção e transformação. Inicialmente sustentado por consequências positivas, esse comportamento tende à automatização quando repetido em contextos semelhantes, reduzindo o custo cognitivo da decisão e integrando-se ao repertório comportamental do indivíduo.
Em paralelo, quando inserido em ambientes que valorizam a empatia e o cuidado com o outro, o altruísmo pode ser internalizado como valor moral, orientando ações mesmo na ausência de reforço externo ou prazer imediato. Esses dois processos — automatização e internalização — ilustram como práticas sociais recorrentes podem evoluir para padrões éticos estáveis, sustentados por regras internalizadas e coerência pessoal.
Assim, é possível afirmar que o altruísmo genuíno — aquele que não espera retorno — pode emergir da formação moral, sustentada por práticas educativas, experiências sociais e processos de reforço que moldam o caráter ao longo da vida.
Formação Religiosa e o Dever Moral de Ajudar
Ao longo da história, as religiões desempenharam um papel central na construção dos sistemas morais das sociedades humanas. Em diferentes culturas, o altruísmo é apresentado como um dever espiritual, frequentemente associado à ideia de transcendência, salvação ou comunhão com o divino.
No cristianismo, por exemplo, o mandamento “amar ao próximo como a si mesmo” (Mateus 22:393) estabelece uma base ética que transcende o interesse próprio. No judaísmo, o conceito de tzedaká — justiça social — reforça a obrigação de ajudar os necessitados como expressão de retidão. No islamismo, a prática do zakat (caridade obrigatória) é um dos cinco pilares da fé. Essas tradições, entre outras, institucionalizam o altruísmo como norma moral, ensinada desde a infância e reforçada por rituais, narrativas e comunidades.
É verdade que muitas doutrinas religiosas vinculam o ato de ajudar a uma recompensa espiritual — como estar bem com Deus ou garantir o paraíso. No entanto, esse sistema de crenças funciona como um condicionamento moral, moldando comportamentos que, com o tempo, podem ser internalizados como valores pessoais, mesmo na ausência de recompensa imediata.
Segundo Mendonça4, a formação moral é um processo que envolve não apenas reforços externos, mas também a construção de significados e identidades. A religião, nesse sentido, atua como uma matriz simbólica que orienta o indivíduo a agir com empatia, compaixão e responsabilidade social.
Assim, mesmo que o altruísmo religioso esteja inicialmente vinculado a promessas transcendentais, ele contribui para a formação de sujeitos que ajudam por convicção, e não apenas por interesse. A espiritualidade, portanto, pode ser vista como uma via legítima para o desenvolvimento do altruísmo genuíno.

Felipe é fundador da Umajuda e especialista nas áreas de Neurociência e Filosofia. Apoiador de movimentos filantrópicos, empreendedor e executivo a mais de duas décadas, acumulou experiências internacionais que lhe permitiram conhecer diversas realidades, culturas e aprofundar seu conhecimento sobre o comportamento humano. Atualmente, também é doutorando pela USP na área de Neurociência.

1 – SKINNER, B.F. Ciência e comportamento humano. São Paulo: Martins Fontes, 1953/1965.
2 – SCHEER, S.; ANDERY, M.A.P.A. Variáveis descritivas do altruísmo na análise do comportamento. Psicologia: Teoria e Pesquisa, v. 37, 2021. Disponível em: https://www.scielo.br/j/ptp/a/453Y6LNDYRpWxHmYWzw85XD/. Acesso em: 30 ago. 2025.
3 – BÍBLIA. Almeida Revista e Atualizada. Trad. J. Ferreira de Almeida. São Paulo: Sociedade Bíblica do Brasil, 2017.
4 – MENDONÇA, Julia Scarano de. Da intersubjetividade à empatia: em busca das raízes da cooperação. Arquivos Brasileiros de Psicologia, Rio de Janeiro, v. 73, n. 2, p. 156–170, 2021. Disponível em: https://revistas.ufrj.br/index.php/abp/article/view/53148/0. Acesso em: 30 ago. 2025.