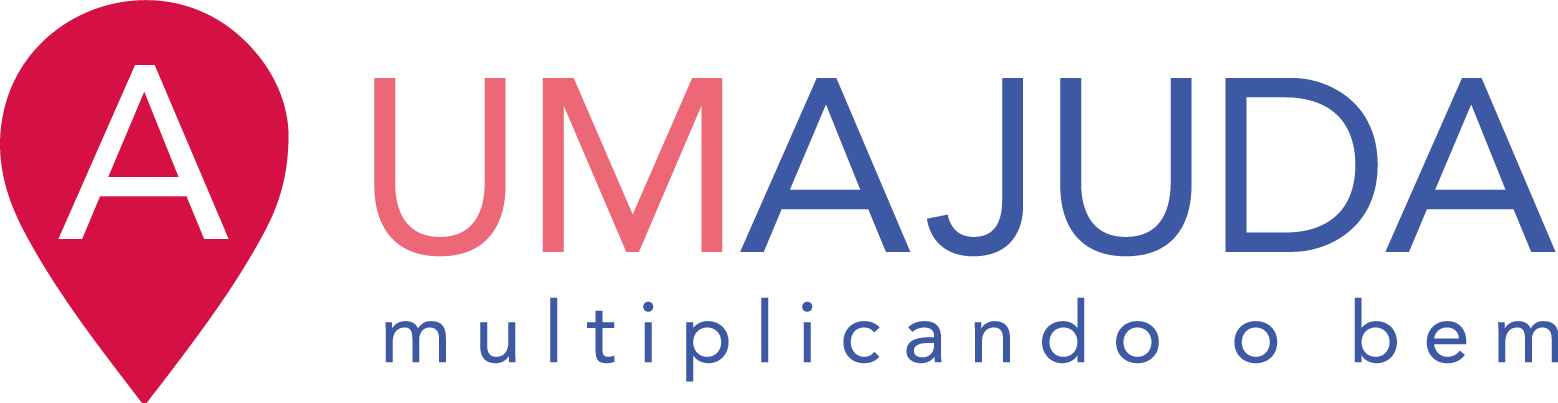Antes do florescimento da filosofia racional, a Grécia Antiga era dominada por uma visão de mundo profundamente mitológica (1200 a 600 AC). Os gregos explicavam o comportamento humano, os fenômenos naturais e os dilemas morais por meio das ações e vontades dos deuses do Olimpo.
Essas figuras divinas refletiam os aspectos mais intensos da psique humana, tornando os mitos verdadeiros espelhos dos conflitos internos dos indivíduos. Essas histórias não buscavam responsabilizar o indivíduo racionalmente, mas sim mostrar que os humanos eram joguetes das forças divinas e do destino.
Com o surgimento da polis (cidade-estado), especialmente em Atenas, houve uma transformação social profunda. A vida coletiva com valores e crenças tão diversas exigia leis, justiça e decisões éticas , e isso não podia mais depender dos caprichos dos deuses.
O Nascimento da Filosofia
Na Grécia Antiga, o pensamento filosófico era dominado pela crença de que a razão deveria governar as emoções. Platão propõe que o mundo sensível é ilusório e que apenas a razão pode acessar o mundo das ideias , onde reside a verdade.
Aristóteles, embora mais conciliador, ainda via a razão como o caminho para a virtude e a boa vida. Ambos rejeitam a ideia de que o comportamento humano é determinado por forças externas ou divinas. A ideia central era clara: as decisões humanas deveriam ser conscientes, lógicas e guiadas pela racionalidade.
Idade Média: A Razão como Virtude Divina
Durante a Idade Média, essa visão foi reforçada pela filosofia cristã, especialmente por pensadores como Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. A razão era vista como um dom divino, capaz de elevar o ser humano acima de seus impulsos. Emoções eram frequentemente associadas ao pecado ou à tentação, algo a ser domado.
A Integração entre Fé e Filosofia
A Igreja Católica tornou-se a principal instituição intelectual da Europa medieval. Os pensadores cristãos buscaram conciliar os ensinamentos de Platão e Aristóteles com a teologia cristã, criando uma nova visão sobre o papel da razão e das emoções.
Santo Agostinho (354–430)
- Influenciado pela filosofia de Platão;
- Razão como um dom divino concedido ao ser humano;
- A busca por Deus se dá pela razão;
- As emoções desordenadas são consequências do pecado original;
- “A razão deve governar os impulsos da alma, pois só ela pode nos aproximar da luz divina.”
São Tomás de Aquino (1225–1274)
- Influenciado pela filosofia de Aristóteles;
- Suma Teológica: fé e razão não são forças opostas, mas sim complementares;
- A decisão ética ideal ocorre quando a razão se alinha à vontade divina, orientando o ser humano para o bem;
- “A razão é a centelha de Deus no homem, é por ela que discernimos o bem e o mal.”
Emoções como Obstáculo à Virtude
Na visão medieval, sentimentos como luxúria, ira e inveja eram vistos como pecados capitais, expressões de uma alma em desequilíbrio emocional. Em contrapartida, as virtudes cristãs,como humildade, paciência e caridade, exigiam domínio racional sobre os impulsos, refletindo uma conduta alinhada com os ensinamentos espirituais. Assim, a vida virtuosa era concebida como uma vida racional, guiada pela fé, pela oração e pelo autocontrole.
Renascimento: A Redescoberta do Humano
Entre os séculos XIV e XVI, a Europa passou por uma profunda transformação cultural e intelectual com o surgimento do Renascimento. Após um longo período marcado pelo teocentrismo medieval, o foco desloca-se para o ser humano, sua dignidade, sua capacidade criativa e sua vivência emocional. Inicia-se uma nova valorização do indivíduo como sujeito consciente e responsável, capaz de compreender o mundo e moldar seu próprio destino.
A Valorização do Indivíduo
Nesse contexto, o corpo humano, antes visto como símbolo do pecado, passa a ser estudado e admirado. A experiência emocional ganha profundidade nas artes e na literatura, revelando nuances antes ignoradas. A subjetividade começa a ocupar espaço: o indivíduo deixa de ser apenas servo de Deus para tornar-se também criador, pensador e cidadão. Ainda que a emoção e a sensibilidade sejam resgatadas, o Renascimento não abandona a razão. Pelo contrário, reafirma-a como instrumento essencial para decisões éticas, políticas e científicas.
Razão e Emoção: Uma Nova Síntese
O Renascimento não representa um retorno ao irracional, mas sim a construção de uma síntese mais rica entre razão e emoção, entre ciência e arte, entre o indivíduo e o coletivo. Esse período marca uma revalorização profunda da experiência humana em todas as suas dimensões, propondo uma visão integrada do mundo e da existência.
O ser humano passa a ocupar o centro da criação e da experiência, sendo reconhecido como agente capaz de transformar a realidade por meio do pensamento, da sensibilidade e da ação. A emoção, antes vista com desconfiança por certas correntes filosóficas, torna-se uma expressão legítima da condição humana, revelando-se essencial para compreender a alma e os afetos que movem o viver. A razão, por sua vez, é reafirmada como guia indispensável para o discernimento ético e político, orientando a busca por justiça, equilíbrio e bem comum.
Legado do Renascimento
Essa nova concepção do humano deixa marcas profundas nos séculos seguintes. Ela prepara o terreno para o Iluminismo, que levará o racionalismo a novos patamares; inspira o nascimento da ciência moderna, fundamentada na observação e na razão empírica; e reconfigura os fundamentos da ética e da política, promovendo a valorização da autonomia e da responsabilidade individual.
Iluminismo: O Homem como Máquina Racional
No século XVIII, filósofos como Descartes e Kant consolidaram a ideia de que o ser humano era essencialmente racional. A famosa frase de Descartes, “Penso, logo existo” , tornou-se símbolo de uma era em que decisões eram vistas como fruto da lógica pura.
Inspirado pelos avanços científicos da Revolução Científica (com nomes como Galileu, Newton e Kepler), o Iluminismo acreditava que o mundo, incluindo o comportamento humano, podia ser compreendido, previsto e aperfeiçoado por meio da razão.
O Homem como Ser Racional
A metáfora dominante do período era a do ser humano como uma “máquina racional” — capaz de processar informações, calcular consequências e tomar decisões lógicas. Emoções eram vistas como interferências, ruídos ou fraquezas que desviavam o indivíduo do caminho da verdade.
René Descartes (1596–1650): Considerado o pai do racionalismo moderno. Sua famosa frase “Cogito, ergo sum” (“Penso, logo existo”) coloca o pensamento racional como fundamento da existência. Ele defendia que o conhecimento verdadeiro só poderia ser alcançado por meio da dúvida metódica e da razão pura.
“Devemos rejeitar tudo aquilo que não seja absolutamente certo, e reconstruir o conhecimento a partir de fundamentos racionais.”
Immanuel Kant (1724–1804): Propôs que a razão é a base da moralidade. Para Kant, agir moralmente é agir segundo princípios universais que podem ser racionalmente justificados. As emoções e desejos não devem guiar a ação ética; apenas a razão pode determinar o dever.
“Age apenas segundo uma máxima tal que possas ao mesmo tempo querer que ela se torne uma lei universal.”
Decisão Ética e Política
Durante o Iluminismo, a decisão ideal passou a ser concebida como aquela fundamentada em princípios racionais e universais. Essa concepção influenciou profundamente diversas áreas: na política, promoveu o surgimento de ideias como o contrato social, os direitos naturais e a soberania popular, conforme proposto por pensadores como Locke e Rousseau; na economia, consolidou-se o modelo do homo economicus, segundo o qual os indivíduos tomam decisões visando maximizar sua utilidade por meio de cálculos lógicos, como defendido por Adam Smith; e na justiça, contribuiu para a construção de sistemas legais baseados em normas racionais e na igualdade de todos perante a lei.
Emoções como Obstáculo
Embora não fossem completamente ignoradas, as emoções eram frequentemente tratadas como elementos secundários ou até mesmo perigosos. As paixões eram vistas como impulsos capazes de ameaçar a liberdade racional; os desejos, por sua vez, eram associados à irracionalidade e à corrupção moral; e os sentimentos, ainda que tolerados, só eram aceitos quando subordinados à razão. Esta, por sua vez, era considerada o farol que guiava o indivíduo em direção à autonomia, à liberdade e à civilização.
Conclusão
Ao longo da história, a razão foi elevada ao posto de guia supremo das decisões humanas. Por séculos, acreditou-se que pensar de forma lógica e consciente era não apenas desejável, mas necessário para agir corretamente. Essa crença moldou instituições, comportamentos e até mesmo nossa ideia de progresso. Ainda hoje, somos ensinados a confiar na razão como ferramenta principal para lidar com o mundo e com nós mesmos.
Mas será que essa confiança absoluta na razão é realmente possível, natural , ou sequer desejável?
Essa é a pergunta que nos conduz ao próximo passo: explorar aquilo que escapa à razão, mas que também nos constitui.


Felipe é fundador da Umajuda e especialista nas áreas de Neurociência e Filosofia. Apoiador de movimentos filantrópicos, empreendedor e executivo a mais de duas décadas, acumulou experiências internacionais que lhe permitiram conhecer diversas realidades, culturas e aprofundar seu conhecimento sobre o comportamento humano. Atualmente, também é doutorando pela USP na área de Neurociência.